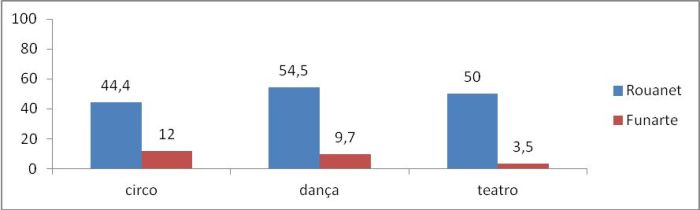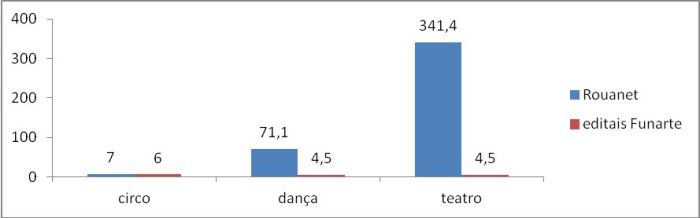“Na luta política, não se pode macaquear
os métodos de luta das classes dominantes
sem cair em emboscadas fáceis”.
os métodos de luta das classes dominantes
sem cair em emboscadas fáceis”.
ANTONIO GRAMSCI
No momento em que encerrava meus estudos de doutorado sobre o PT em 2004 (As metamorfoses da consciência de classe: o PT entre a negação e o amoldamento. São Paulo: Expressão Popular, 2006) utilizei uma citação de José Genoíno que me parecia bastante representativa do ponto a que chegara este importante partido em sua trajetória. O mais interessante é que no texto, que foi publicado em 1989, o ex-presidente do PT que na época se localizava nas fileiras da esquerda daquela agremiação, buscava descrever as características dos partidos conservadores, próprios da estrutura política tradicional. Por uma das ironias da história, pareceu-me que tal descrição poderia bem ser utilizada para descrever o ponto a que chegou a metamorfose do PT.
Dizia Genoíno:
“Genericamente, na sociedade industrial moderna, os partidos políticos da ordem nascem e atuam fundamentalmente no terreno das instituições representativas do Estado. O seu modo de ser e sua atuação política têm como referência e destino estar aí, operando em algum dos aparatos do Estado. As formas como estes partidos se organizam e se estruturam já vem marcada por este objetivo interesseiro, o de conservar a funcionalidade do estado de coisas estabelecido. Ou, no máximo, moldando as exigências de mudanças a um esquema de representações significativas que não abalem os alicerces das relações sociais determinadas pelo conservadorismo. Estes partidos mantêm uma relação com as massas populares essencialmente manipulatória, fazendo-as crer que a sociedade (e o Estado) só terá garantias de funcionamento se determinados limites não forem ultrapassados e se determinados esquemas funcionais forem mantidos. E não poucas vezes, a manipulação e a mentira são revestidas com discursos moralizantes para encobrir a sua descarada hipocrisia”. (GENOINO, José. “Um projeto socialista ainda em construção”. In: GADOTI, Moacir. Pra que PT ?. São Paulo: Cortez, 1989. p. 356)
O paradoxo é que o PT não nasceu no terreno das instituições representativas do Estado, mas no terreno fértil da luta de classes. Entretanto, a descrição acima indica com clareza o ponto de chegada de uma organização que, nascida no solo da luta de classes, deslocou seu ser para o terreno perigoso do “estar aí, operando em alguns dos aparatos de Estado”, com todas as consequências que daí derivam. Não apenas o respeitar dos limites, afirmados como intransponíveis pois ancorados nas restrições da “funcionalidade do estado de coisas estabelecido”, mas sobretudo aquilo que hoje se torna dramático: fazer crer às massas que a garantia de sua vitalidade só de dará na medida em que sejam respeitados tais limites, levando à uma ação marcada pela “manipulação e a mentira” revestidas por um discurso moralizante que tenta encobrir sua descarada hipocrisia.
Seria este um destino inescapável para aqueles que buscam o poder? Creio que não. Tal conclusão nada mais é que a expressão mais sofisticada da máxima do senso comum segundo a qual o “poder corrompe”. Caso nos rendêssemos a esta conclusão, teríamos que nos aprofundar nos escritos de John Holloway buscando os caminhos para mudar o mundo sem tomar o poder, apenas para descobrir que ele também ainda não os encontrou.
Continuo convencido de que a explicação para a metamorfose do PT tem de ser buscada na própria estratégia adotada pelo partido e seus limites. Ainda que o desfecho atual não possa ser entendido como o único desenvolvimento possível desta estratégia (governos como o da Venezuela e da Bolívia comprovam que haviam outras trajetórias possíveis, ainda que não isentas de impasses semelhantes), é seguro afirmar que o ponto de chegada guarda uma coerência com o caminho escolhido.
A TRAJETÓRIA DA ESTRATÉGIA DEMOCRÁTICA POPULAR
O caminho que leva das intenções iniciais da Estratégia Democrática Popular à sua implementação numa situação de governo é muito longo e cheio de matizes que não é possível aqui reproduzir. Desta maneira, vou centrar a atenção em alguns pontos que considero centrais para jogar um pouco mais de luz no desfecho trágico que agora presenciamos e pensar sobre perspectivas que se abrem.
Em sua substância mais essencial, a Estratégia Democrática Popular esperava, através de uma combinação de dois movimentos em “pinça” (a construção de um movimento socialista de massas de um lado, e assegurar as expressões institucionais destas lutas na conquista de espaços institucionais de outro), chegar ao Governo Federal para executar um programa anti-latifundiário, anti-imperialista e anti-monopolista. Buscando diferenciar-se da antiga formulação do PCB sobre a Revolução Democrática Nacional, um governo nestas condições que busca realizar este programa não representaria uma nova teoria de “etapas”, uma vez que sua implementação só poderia se dar por um governo “hegemonizado pelos trabalhadores”, sem nenhuma aliança estratégica com a burguesia.
Completa tal formulação a afirmação presente no V Encontro Nacional do PT (1987) segundo a qual a superação do capitalismo e o início da construção socialista marcava uma “ruptura radical” que pressupunha a necessidade dos trabalhadores tornarem-se classe “hegemônica e dominante no poder de Estado”, eliminando o “poder político exercido pela burguesia”.
A conjunção de vários fatores (a derrota eleitoral para Collor, a reestruturação produtiva do capital, a crise nas experiências de transição socialista, etc.) fará com que um processo de inflexão moderada se iniciasse a partir do VII Encontro Nacional (1990). A diferença sutil, mas cheia de significado, aparece nas resoluções deste encontro quando cita a formulação do V Encontro que apresentamos antes, afirmando que os trabalhadores devem se tornar hegemônicos na sociedade civil e no Estado, deixando outros aspectos do projeto socialista como “desafios em aberto”.
Para os bons observadores, é fácil notar que o que desaparece da frase é a necessidade dos trabalhadores tornarem classe dominante no Estado destruindo o poder político da burguesia e a desconsideração explicita na primeira formulação segundo a qual não haveria “qualquer exemplo histórico de uma classe que tenha transformado a sociedade sem colocar o poder político – o Estado – a seu serviço”.
O que parece ficar implícito é que os trabalhadores poderiam ocupar a máquina do Estado burguês e colocá-la a seu serviço. Tal raciocínio se explicita já no I Congresso em 1991, quando as resoluções afirmam, para apontar o tipo de socialismo que se desejava e diferenciá-lo das experiências históricas do século XX, que no caso petista o socialismo deveria se dar no quadro de um “Estado de Direito”. Ainda que tal debate se dê no contexto de uma avaliação necessária da relação entre democracia e socialismo e os problemas nas experiências de transição realizadas, no caso do PT isso, parece-me, acaba desembocando para muito além. Vejamos mais de perto a passagem das resoluções do I Congresso que trata do tema:
“O socialismo pelo qual o PT luta prevê, portanto, a existência de um Estado de Direito, no qual prevaleçam as mais amplas liberdades civis e políticas, de opinião, de manifestação, de imprensa, partidária, sindical etc.; onde os mecanismos de democracia representativa, libertos da coação do capital, devem ser conjugados com formas de participação direta do cidadão nas decisões econômicas, políticas e sociais. A democracia socialista que queremos construir estabelece a legitimação majoritária do poder político, o respeito às minorias e a possibilidade de alternância do poder”. (Resoluções do I Congresso (1991)
Quando analisamos mais detidamente a afirmação, percebemos que trata-se do mesmo Estado Burguês na forma “democrática”, com todas seus princípios tornados universais (ordenamento jurídico como fundamento das relações, liberdades civis, democracia representativa combinada com formas de democracia direta, legitimação da maioria, respeito às minorias e alternância de poder), as famosas “regras do jogo”, tal como define ninguém menos que Norberto Bobbio e que foram invocadas pelo ex-presidente Lula em seu discurso recente. A diferença é que esta máquina política seria, agora, liberta da “coação do capital”.
O problema é que se estas concepções navegam em um inevitável terreno de abstrações, na situação concreta da possibilidade de chegar ao governo do Estado burguês elas ganham materialidade. A principal alteração na operação da estratégia surge exatamente da possibilidade de chegar ao Governo Federal antes que o trabalho da “pinça” estivesse avançado o suficiente para criar uma correlação de forças que permitisse implementar o programa anunciado.
Tal dilema se expressa em algumas perguntas: É possível, mesmo nesta situação, chegar ao governo? É desejável? Caso se chegue é possível manter-se, isto é, não ser derrubado por um golpe? As respostas a estas questões são chave na compreensão de nosso tema. Porque depois de avaliar que por conta crise econômica, das contradições dos governos burgueses de plantão, etc. essa era sim uma alternativa possível, e depois de definir que ela era de fato desejável, a discussão passa a se centrar nas condições para manter-se no governo.
O sentido geral desta equação resolveu-se da seguinte forma. É possível chegar ao governo mesmo sem a correlação de forças necessária, mas isto implica que não seria possível implementar o programa anti-latifúndio, anti-imperialista e anti-monopolista, o que significaria seguir o acúmulo de forças em novo patamar – agora numa situação privilegiada de poder por se encontrar no governo.
Neste ponto, no entanto, a operação da estratégia se torna complexa, pois a chegada ao governo significava, no esquema anterior, a oportunidade para desencadear o programa democrático popular e, num segundo momento, confirmada a impossibilidade de levá-lo a cabo em sua integralidade no interior da ordem burguesa (até pela resistência óbvia dos segmentos conservadores), a possibilidade de seguir com uma ruptura mais radical em direção ao socialismo. Agora, no novo contexto, trata-se de seguir a acumulação de forças utilizando-se do espaço de governo, para depois buscar este desfecho. Mas, para isso, é preciso e essencial permanecer no governo e a única forma de fazê-lo era não implementar os eixos do programa e sua radicalidade para não despertar a reação das classes dominantes.
A forma do Estado proposta e os termos deste dilema se resolvem, no andar da carruagem, na equação que conduziria à inflexão moderada: rebaixar o programa, ampliar alianças, ganhar as eleições e garantir a governabilidade.
Durante todo o tempo em que, nas novas condições apresentadas, o PT levaria o processo de acúmulo de forças para uma situação de governo, o Estado burguês não interviria no sentido da interrupção do processo, uma vez que o PT estaria comprometido a respeitar as regras do jogo.
Acontece que as regras não dizem respeito apenas ao tabuleiro político. O jogo principal se dá na luta de classes, e é em seu terreno (que são as relações sociais de produção e as formas de propriedade) que se encontram as principais regras que a burguesia quer ver respeitada. O equilíbrio não estaria, portanto, apenas na aceitação das regras da disputa política e do exercício de governo, mas na aceitação explícita que ninguém estava disposto a chutar o tabuleiro da acumulação capitalista, ou nas palavras do jovem Genoino, “moldando as exigências de mudanças a um esquema de representações significativas que não abalem os alicerces das relações sociais determinadas pelo conservadorismo”, diríamos nós, determinadas pela forma capitalista de produção e a sociabilidade burguesa que dela deriva.
É neste ponto que a estratégia petista desemboca no pântano do pacto social e da conciliação de classes como condição de sua governabilidade. Os termos do XII Encontro Nacional em 2002, às vésperas da eleição que levaria Lula ao seu primeiro mandato é reveladora desta intenção ao falar da necessidade de um “novo contrato social”, uma ampla aliança entre forças políticas para dar “suporte ao Estado-Nação”, leque de forças que deveria incluir “empresários produtivos de qualquer porte”. O problema era como atrair o empresariado de qualquer porte e a resposta é os benefícios de superar a lógica rentista, a ampliação do mercado de massas e garantir a “previsibilidade para o capital”.
Ora, previsibilidade para o capital significa garantir para a burguesia que não se mexerá nas formas de propriedade, nas relações sociais de produção e, conjunturalmente, não se alteraria o rumo da contra reforma em curso e seus mecanismos macro-econômicos. Ou seja, exatamente o que foi depois expresso na “Carta aos brasileiros”, de Lula em 2002.
Quatro mandatos presidenciais demonstram, é certo, a eficiência tática do caminho do pacto social. Mas algo salta à vista de qualquer analista atento: a tática de permanência no governo não acumulou forças no sentido esperado no quadro da estratégia democrática popular. Pelo contrário: desarmou a classe trabalhadora de sua autonomia necessária, a desorganizou, despolitizou, e deslocou o campo de luta para o terreno do inimigo: seu Estado. Aí está um nó principal no grande equívoco de implementação da estratégia na situação de governo. O Estado não é neutro, nem altera sua natureza de classe pela ocupação de seus espaços por forças sociais oriundas de outras classes, segue funcionando como Estado-classe, nos termos gramscianos.
Para manter os termos necessários ao pacto e a conciliação de classes, o governo é obrigado a golpear os trabalhadores em seus direitos mais elementares. O preço da governabilidade não é o adiar da execução integral do programa democrático popular, é sua mais retumbante renúncia.
MAS E A OPERAÇÃO LAVA JATO?
Neste ponto da exposição, o leitor inquieto do Blog da Boitempo se pergunta: “puxa, a conjuntura explodindo em fatos dramáticos, a Presidente sob risco de impedimento, Lula sendo levado sob condução coercitiva para depor na Lava-Jato, e este cara nos falando de estratégia!?”
Pois é, o problema é que não creio ser possível entender os acontecimentos envoltos nas brumas enganosas da conjuntura, e muito menos posicionar-se politicamente, sem compreender estes fatos à luz do processo histórico mais recente. Aquele que tomar as decisões pelo fígado ou movido pelas paixões mais candentes, corre um enorme risco de errar.
Uma lembrança pessoal pode me ajudar a finalizar esta reflexão. Inúmeras vezes, quando militava no PT, era provocado pela veemente afirmação segundo a qual Lula tinha uma casa no Morumbi. Ocorre que naquela época eu morava em São Bernardo e era vizinho de Lula. Ele morava ao final da Rua São João e eu uma rua acima. Era uma casa absolutamente compatível com as condições de um operário e dirigente sindical. Desta forma, sempre respondia a tais provocações com humor, afirmando que meu pequeno apartamento na cidade do ABC paulista tinha então valorizado muito, pois não sabia que ali era o Morumbi.
Conto isso para afirmar duas coisas. Primeiro, que o que tem aparecido é apenas uma cortina de fumaça. Não se trata de bens pessoais ou favorecimentos. Não tenho o menor interesse em saber onde fica ou qual o tamanho da moradia do ex-Presidente, nem de onde ele descansa nos fins de semana. Segundo, que diferente daquela época, não estou disposto a botar minha mão no fogo para atestar a inocência de Lula, como parece ter se prontificado Fernando Morais. Não pelos fatos que o imputam, como disse, mas por algo maior que se refere à reflexão aqui apresentada.
Uma das consequências da conciliação de classes operada é uma relação promiscua entre o poder público e os interesses monopolistas privados. Vejam, não discuto a dimensão legal de tais atos, uma vez que exércitos de bons advogados podem chegar a provar que nada do que foi feito é ilícito. Não opino e não quero opinar neste campo. Interessa-me uma dimensão política e moral.
Pode ser perfeitamente legal, num exemplo hipotético, que um ex-Presidente aproveite suas viagens para apresentar a um determinado candidato em um certo país, seu amigo publicitário com um portfólio invejável de vitórias eleitorais; ou ainda, um esforçado empresário de uma grande empreiteira disposto a contribuir desinteressadamente com os custos de tal campanha e depois discutir, já que está por ali, a eventualidade de um ou outro contrato caso o candidato ganhe. Independente de discutir a legalidade de tais procedimentos, do ponto de vista moral é reprovável e do ponto de vista político tal postura é indefensável.
Em outro plano, com o perdão dos adoradores da álea singular dos acontecimentos conjunturais, o desenvolvimento da estratégia petista na situação de governo comprovou que o malabarismo do pacto social acabou por favorecer muito os interesses das camadas dominantes, ao mesmo tempo em que se operavam ataques severos contra nossa classe trabalhadora, como a reforma da previdência, o rigor na aplicação do ajuste fiscal, a lei antiterrorismo que criminaliza as lutas sociais, a entrega do pré-sal, o abandono da reforma agrária, o código florestal e o código de mineração, a liberação dos transgênicos, e uma lista que não caberia neste espaço.
Assim, nos parece que a burguesia está disposta a se livrar de seu aliado, não por suas eventuais virtudes de um líder operário que um dia foi, mas pelo simples fato de que, tendo sido muito útil para operar uma democracia de cooptação fundada no apassivamento da classe trabalhadora, torna-se agora fonte de instabilidade que pode colocar em risco os interesses dominantes. E a burguesia vai usar todos os meios para tanto, fazendo uso inclusive daqueles instrumentos de seu Estado-classe que o PT julgava que fossem “republicanos” e que estariam a serviço desta abstração chamada “nação”.
O PT não se preparou para esta eventualidade pelo simples fato de que em sua estratégia tal possibilidade inexistia – seria neutralizada pelo caminho escolhido e o respeito às regras do jogo. Não há culpados na luta de classes, não somos cristãos. Mas há responsabilidade. Se a direita, como parece ser o caso, resolver se livrar do PT com os métodos mais escusos, certamente a responsabilidade não pode ser atribuída àqueles que sempre apontaram esta possibilidade e indicaram os limites do desenvolvimento desta estratégia.
O argumento que convoca à defesa pública de Lula (e, por via de consequência, de seu partido), de que se é a direita que o ataca, a esquerda “tem a obrigação de defendê-lo”, é absolutamente falacioso. A única maneira de defender Lula é torná-lo um fetiche. Isto é, abstrair toda a particularidade concreta que o constitui para produzir um Lula simbólico muito distinto da pessoa real que ele é e que sua prática demonstrou ser. Para emergir um Lula defensor injustiçado dos mais pobres e dos trabalhadores, perseguido pelos poderosos, é necessário abstrair o Lula amigo destes poderosos, levando-os em vôos fretados para fazer negócios e criando as condições para que ganhassem dinheiro como nunca, como ele próprio gosta de dizer. Mas mesmo assim, proclamam outros, este símbolo pode ser o que nos resta para resistir contra o ataque da direita.
Os caminhos nefastos do culto à personalidade – de se acoplar o destinos da classe ao carisma pessoal de um líder independente do sentido real que sua ação política aponta – já demonstrou seus enormes riscos na história de nossa classe. Se um Lula abstrato e fetichizado – em outras palavras, o lulismo – for nossa última e única linha de resistência (o que não creio que seja verdade) contra o próximo movimento da direita, seja qualquer que for o resultado, nós já estaremos derrotados.
Por: Mauro Iasi
Fonte: Blog Boitempo